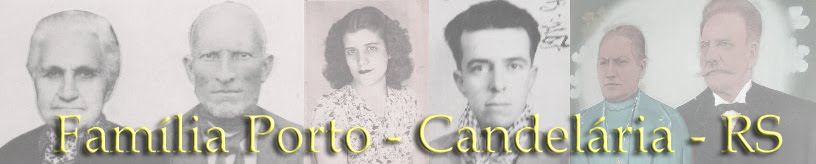|
Assinatura de Francisco Pinto Porto
em documento da Câmara de Rio Pardo |
* Natural do Porto, Portugal, da Freguesia de São Pedro de Miragaia;
* Filho de Francisco Pinto Porto e Josefa Maria;
* Casou-se em Rio Pardo, RS, em 22/09/1811, com Luciana Francisca de Souza. Esta filha de João Teixeira de Magalhães e Roza Joaquina de Souza. Era, antes, viúva do Capitão Francisco Antônio Gonçalves;
 |
Registro de Matrimônios 1809, Jul-1832, Nov - Igreja Nossa
Senhora do Rosário – Rio Pardo - RS
|
* Tiveram dois filhos, pelo que sabemos: Francisco Pinto Porto (Cel. da Guarda Nacional) e Joaquim Pinto Porto (formado em Direito em SP, juiz, advogado);
* Francisco faleceu em Rio Pardo, em 03/05/1841, com 66 anos, de "enfermidade interna" e Luciana, também em Rio Pardo, em 03/10/1836. Consta que ambos faleceram em uma Fazenda na Costa de Camaquã;
* Recebeu concessão de Sesmaria na Serra do Botucaraí, em 1814;
* Mais tarde, tornou-se Capitão-Mor, comandante do Terço das Ordenanças de Rio Pardo. Possuía o cargo mais alto das Ordenanças. Coordenava as quatro companhias de Ordenanças que havia em Rio Pardo na época. Tendo importante atuação em 1828 na Guerra da Cisplatina, recrutando e enviando seus homens para ajudar o exército na defesa da fronteira.
PEQUENA BIOGRAFIA
Sua primeira referência em Rio Pardo remonta ao ano de 18081, como comerciante. A partir daí, sua história e a desse antigo município gaúcho se fundem, visto que esteve ativamente presente na vida política, militar e social daquela comunidade, de maneira que, escrever sua microbiografia, significa percorrer o surgimento de Rio Pardo como cidade, bem como a participação do povo local na defesa das fronteiras do nosso país.
 |
Igreja Nossa Senhora do Rosário
Rio Pardo - RS |
Esteve presente no auto de criação da Vila de Rio Pardo2, em 20 de maio de 1811, ocasião em que houve o levantamento do pelourinho, coluna de pedra onde eram divulgados os editais públicos ou abertos os votos para escolha dos representantes da Câmara.
 |
Rua da Ladeira, ou Rua Júlio de Castilhos - Rio Pardo - RS
Antes chamada Rua Direita, no antigo número 50,
ficava a Casa de Francisco Pinto Porto
|
A Câmara Municipal de Rio Pardo, fundada naquele ato, assim como determinava, na época, as Ordenações Filipinas, exercia simultaneamente atividades administrativas, judiciárias e tributárias. Era dividida em dois grupos. O primeiro era constituído por juízes ordinários, três ou quatro vereadores, e um procurador, todos cargos eletivos e com direito a voto, que, embora não remunerados, possuíam certo grau de prestígio. Já o segundo grupo, era composto por juízes vintenários, juízes almotacés, juiz de órfãos, tesoureiro, escrivães, porteiro e carcereiro, dos quais apenas o juiz de almotacé não era remunerado3.
 |
Cadeiras que pertenceram à Câmara de Rio Pardo
Expostas em museu
Fonte: Gazeta do Sul, Santa Cruz do Sul, ano 77, nº 193
página 11, 08/09/2021 |
Destes cargos, Francisco Pinto Porto foi por quatro vezes Juiz de Almocacel (ou Almotacé), em 18114, 18135, 18143, e 18233; Juiz Ordinário, em 18176, ocasião em que não assumiu, tendo renunciado em favor de seu parente Capitão Caetano Coelho Leal, casado com uma prima de sua mulher, eleito também na mesma legislatura, pois havia proibição em lei de exercício conjunto do mesmo cargo por parentes; vereador em 18157, 18228 e 18339; e procurador, em 18153, bem como eleitor, nos anos de 18193, 182410, ano em que já era Capitão-Mor, e 18263.
O sistema utilizado em Rio Pardo para eleição desses cargos era o de pelouros, instituído em 1391, por D. João I, e seguido até quase o final do Antigo Regime. Consistia na eleição de seis indivíduos, os eleitores, aos quais competia escolher os futuros oficiais da câmara. Esses seis eleitores, anteriormente escolhidos em uma sessão conjunta da câmara e dos chamados “homens bons”, separavam-se em duplas, e elaboravam as listas com os nomes daqueles que ocupariam os cargos da câmara nos três anos seguintes. Cada lista era colocada dentro de um pelouro - pequenas bolas de cera - e, posteriormente, dentro de um saco, depositado em um cofre. O sorteio era realizado por uma criança, que retirava um pelouro de cada compartimento3.
À exceção dos vereadores, os demais eleitos necessitavam de uma confirmação do ouvidor da comarca, a “carta de usança”, para então poder entrar em exercício. Segundo Schmachtenberg, “ocupar os cargos da câmara era uma forma de distinção e enobrecimento, garantido apenas aos ditos 'homens bons'”. Neste sentido, “homens bons” eram aqueles pertencentes à nobreza da terra, comerciantes, negociantes, estanceiros e militares, ou seja, a elite rio pardense, dentre os quais, grande parte, como é o caso de Francisco Pinto Porto, indivíduos que ocupavam os principais cargos da câmara municipal, formando o grupo de cidadãos3.
Mesmo sem remuneração, os juízes de almocacés, eleitos em pares para mandato de três meses, eram cargos importantes, visto que representavam autoridade no município. Sua finalidade não era simplesmente regular pesos e medidas, mas garantir o abastecimento e policiamento do mercado urbano, uma vez que controlavam a produção e distribuição de alimentos, zelavam pela limpeza e manutenção das cidades. Para tanto, eram investidos de autoridade jurisdicional, uma vez que a eles competia aplicar sanções aos infratores, com base no código de posturas da câmara. Tais penas poderiam ser multas, ou mesmo prisões e açoites3.
A ação dos juízes de almocacés na fiscalização do espaço urbano se dava por meio de corridas ou correições, e eram feitas, salvo raras exceções, em duplas. “Antes de saírem para fazer as corridas e as correições, era 'pregado' junto à Câmara edital notificando a todos os comerciantes da vila que deveriam ter suas licenças preparadas, manter as portas dos seus estabelecimentos abertas e asseadas, as mercadorias, os pesos e as medidas prontos para serem fiscalizados”3. Nesse sentido, Francisco Pinto Porto que, como referimos anteriormente, foi Juiz de Almocacel por 4 mandatos, fez 4 corridas, e dez condenações.
Em pesquisa ao Arquivo Histórico do Município de Rio Pardo, no Livro de Registro da Almotaçaria, número 5, de 1811/1828, encontrou-se registro de uma dessas corridas efetuadas por Francisco Pinto Porto, juntamente com Manoel Pereira de Carvalho, em 16/12/1811, que resultou na condenação de Francisco José Vianna em três mil réis, por ter vinho azedo. Também outros dois indivíduos foram condenados naquela mesma data, um por não ter na taverna asseio devido e outro por não possuir licença para funcionar.
 |
| Arquivo Histórico de Rio Pardo - RS |
De sua atuação, podemos perceber uma certa organização do comércio local, da cidade de Rio Pardo em si, semelhante ao que ocorre hoje pelos fiscais municipais, inclusive com a obrigação dos estabelecimentos possuírem licença para funcionar.
No que se refere à sanção pelo descumprimento, a multa era medida inicial que, caso houvesse reincidência, poderia levar à prisão por trinta dias, e a impossibilidade de exercer novamente o ofício3.
1- LAYTANO, Dante de. Origem da Propriedade Privada no Rio Grande Do Sul”, Martins Livreiro, Porto Alegre, 1983.
2- ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO – Livro de Atas da Câmara de Vereadores de Rio Pardo – Livro nº 271 – ano 1811 - página 3 (verso), 4 e 5. - “Auto de criação desta nova villa do Rio Pardo e levantamento do Pelourinho”.
3- SCHMACHTENBERG, Ricardo. “A ARTE DE GOVERNAR: Redes de poder e relações familiares entre juízes almotacés na Câmara Municipal de Rio Pardo / RS, 1811 – c.1830”. São Leopoldo, 2012. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS.
4 - ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO – Livro de Posse e Juramentos, Livro número 2 de 1811/1847, página 6 – Pesquisa realizada em 31/10/2007, in loco.
5- ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO – Livro de Posse e Juramentos, Livro número 2 de 1811/1847, página 19 – Pesquisa realizada em 31/10/2007, in loco.
6- ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO – Livro dos Termos de Eleição número 1, de 1811/1828, página 8 verso – Pesquisa realizada em 31/10/2007, in loco.
7- ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO – Livro Atas da Câmara, 1811/1818, página 66 verso – Pesquisa realizada em 31/10/2007, in loco.
8- ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO – Livro dos Termos de Eleição número 1, de 1811/1828, – Pesquisa realizada em 31/10/2007, in loco
9- ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO – Livro de Posse e Juramentos, Livro número 3 de 1811/1847, página 28 – Pesquisa realizada em 31/10/2007, in loco.
10- ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO – Livro dos Termos de Eleição número 1, de 1811/1828, página 16 – Pesquisa realizada em 31/10/2007, in loco.
As Ordenanças e a Guarda Nacional
Por volta de 1825, a organização militar no Brasil se dava através de três instituições armadas, com funções distintas: o Exército, as Milícias e as Ordenanças. Tal estrutura manteve-se até 1831, quando as milícias e as Ordenanças foram extintas e se criou a Guarda Nacional2.
O exército, ou 1ª linha, era uma estrutura profissional, regular, paga e vinda do reino. As milícias, ou 2ª linha, eram consideradas uma força reserva, ficando disponíveis para as necessidades ocasionais, sendo requisitadas a qualquer momento para auxiliar o exército. Em raros casos eram remunerados. Enquanto que o recrutamento das pessoas que serviam na 1ª linha atingia um grande grupo social, conforme a lei de recrutamento de 1822 - todos os homens brancos solteiros, pardos, libertos, contando com idade de dezoito a trinta e cinco anos, milicianos impropriamente alistados ou que não tivessem se fardado ou que subsistissem de uma indústria ilegal, bem como caixeiros de lojas de bebidas e tabernas, todos podendo ser recrutados para o exército – o recrutamento para a 2ª linha, as Milícias, envolviam indivíduos que eram isentos do serviço do exército2.
Vale destacar também que não havia uma divisão rígida entre isentos e não isentos do serviço militar, visto que muitas vezes em uma mesma família pode-se encontrar indivíduos em ambas condições. Isso porque, alguns eram isentos do recrutamento da 1ª linha porque se incluíam em uma série de condições determinadas por aquela mesma lei, como por exemplo estudantes que apresentassem atestados de seus professores comprovando sua aplicação, irmãos que fossem responsáveis pelo sustento e educação de órfãos, filhos únicos de viúvas, etc2.
Além do que, os milicianos não estavam todo o tempo diretamente ligados a atividades militares, e quando atuavam, o faziam basicamente dentro dos limites das localidades onde viviam; diferentemente do exército, que poderia ser enviado a qualquer tempo para onde fosse necessário sua atuação. Entretanto não significa dizer que aqueles não poderiam ser enviados a outras localidades quando se fizesse necessário, mas sim que primeiramente seriam enviados o exército e, somente após esse e se fosse preciso, as forças milicianas seriam chamadas2.
Já as Ordenanças, compostas por moradores, povoadores e sesmeiros, que deixavam seus trabalhos para acudir às necessidades militares, eram uma força semi-regular, não profissional, de 3ª linha, empregadas nos depósitos de recrutas das tropas de 1ª e 2ª linhas2.
Neste contexto, Francisco Pinto Porto, em 1822, por ocupar o posto de Capitão-Mor de Ordenanças em Rio Pardo, “devia ter um perfil de um homem com mais de quarenta anos que tinha servido nas Milícias por cerca de vinte e cinco anos e era considerado pela Câmara Municipal de Rio Pardo uma pessoa das mais idôneas. Eram estas as determinações para o suprimento deste posto, assim como o de Sargento-mor e Capitães”2, conforme descreve Ribeiro em seu estudo sobre Milicianos e Guardas Nacionais da primeira metade do século XIX. Na verdade, tinha ele 47 anos, conforme pode-se apurar mais tarde, em seu registro de óbito na cúria de POA; comprovando, assim, o pensamento do autor. Ele possuía o cargo mais alto das Ordenanças. Coordenava as quatro companhias de Ordenanças que havia em Rio Pardo na época.
Cabia aos Capitães Mores como comandante do terço das Ordenanças, manter a ordem e a convivência nas localidades, principalmente no que se refere aos grupos considerados de risco (forros e homens brancos livres e pobres). Para tanto, uma estratégia era recruta-los como militares; outra era a repressão pura e simples de todo e qualquer evento que, então, se configurava como desordens: o ataque a quilombos, a captura de presos foragidos, de soldados desertores, a prisão de criminosos, as providências contra as invasões de engenhos pelos gentios, etc1.
Quanto ao papel das Ordenanças na feitura de soldados, pode-se afirmar que aos Capitães-Mores cabia elaborar listas constantemente atualizadas com a descrição de todos os habitantes da localidade militarmente úteis. Em tais listas, deveriam ser descritos todos os moradores obrigados às Ordenanças, constando nome, sobrenome, idade, domicílio, número de filhos varões e suas respectivas idades1.
O contexto histórico das primeiras décadas do século XIX – a vinda da família real ao Brasil em 1808, a independência do Brasil em 1822, a primeira constituição em 1824 – fez surgir um sentimento nativista dos brasileiros em oposição aos portugueses nativos. Os choques entre nacionais e lusos aumentaram com a abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, o que levantou a preocupação com a manutenção da unidade do Império e da nova ordem instaurada com a regência2. Os nacionais exigiam pela reparação por parte dos comerciantes lusitanos da exploração econômica da época colonial e pela suspensão da entrada de portugueses no país por dez anos. Enquanto que os lusitanos realizavam manifestações públicas dando vivas ao Imperador que abdicara2.
Acrescentando-se a isso a insubordinação do Exército - formada de negros, mulatos, homens pobres, indivíduos, na maioria dos casos sem nenhuma qualificação profissional, embora brasileiros, vistos com desconfiança pelos demais segmentos da sociedade – cujos comandantes ocupantes de altos postos eram estrangeiros, o que gerava temor diante da possibilidade de as forças armadas insurgirem contra o Governo, surge a necessidade de se criar uma alternativa para os problemas da manutenção da ordem e, com isso, a manutenção da unidade nacional. Neste cenário, aprova-se a criação, em 18 de agosto de 1831, da Guarda Nacional2.
A Guarda Nacional foi uma instituição de caráter civil, formada por cidadãos eleitores e seus filhos, para atuar de forma a sustentar as forças políticas que assumiram o governo do Império2. Conforme estipula o artigo 1º da Lei de 18/08/1831: “As Guardas Nacionais são criadas para defender a Constituição, a liberdade, independência e a integridade do Império; para manter a obediência às Leis, conservar ou restabelecer a ordem e a tranqüilidade pública; e auxiliar o Exército de Linha na defesa das fronteiras, e costas”3.
A subordinação da Guarda Nacional era aos Juízes de Paz, aos Juízes Criminais, aos Presidentes de Província e ao Ministro da Justiça, autoridades estas que poderiam requisitar seus serviços no caso de necessidade de auxiliar o Exército. Isso porque, Guarda Nacional e exército eram instituições em separado. Enquanto que a este se dava a defesa contra as ameaças estrangeiras, e era composto por estrangeiros e marginais de toda espécie, cabia a Guarda Nacional o controle do inimigo interno e nela somente deveriam ser alistados os indivíduos participantes da vida política do Império, ou seja, entre outros requisitos, deveriam possuir renda mínima de cem mil réis, valor este exigido pela Constituição de 1824 para ser eleitor. Em 1832, algumas alterações normativas foram feitas, sendo que uma delas estipulou que só poderiam ser eleitos oficiais os praças que tivessem uma renda superior ou igual a duzentos mil réis2.
Enquanto que os cargos de Coronéis e Majores da Guarda Nacional eram escolhidos pelo Governo, os demais cargos oficiais eram escolhidos em eleições que votavam todos os guardas nacionais para exercerem um posto pelo prazo de quatro anos. Isso se modificou mais tarde onde foi permitida a substituição das eleições por nomeações provinciais e, posteriormente, por indicação dos comandantes dos corpos2.
Referências Bibliográficas:
1 Mello, Cristiane Figueiredo Pagano de. Artigo: “OS CORPOS DE ORDENANÇAS E AUXILIARES. SOBRE AS RELAÇÕES MILITARES E POLÍTICAS NA AMÉRICA PORTUGUESA”;
2 Ribeiro, José Iran. Quando o Serviço os Chamava: Milicianos e Guardas Nacionais no Rio Grande do Sul (1825 – 1845). Editora UFSM. Santa Maria: 2005. 304p.
3 CLI 1830-1831. Coleção das Leis do Império do Brasil (1830-1831).